| 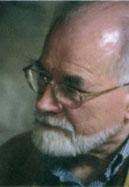 **Jean Hani** |  **Etienne Couvert** |
|  |  |  |